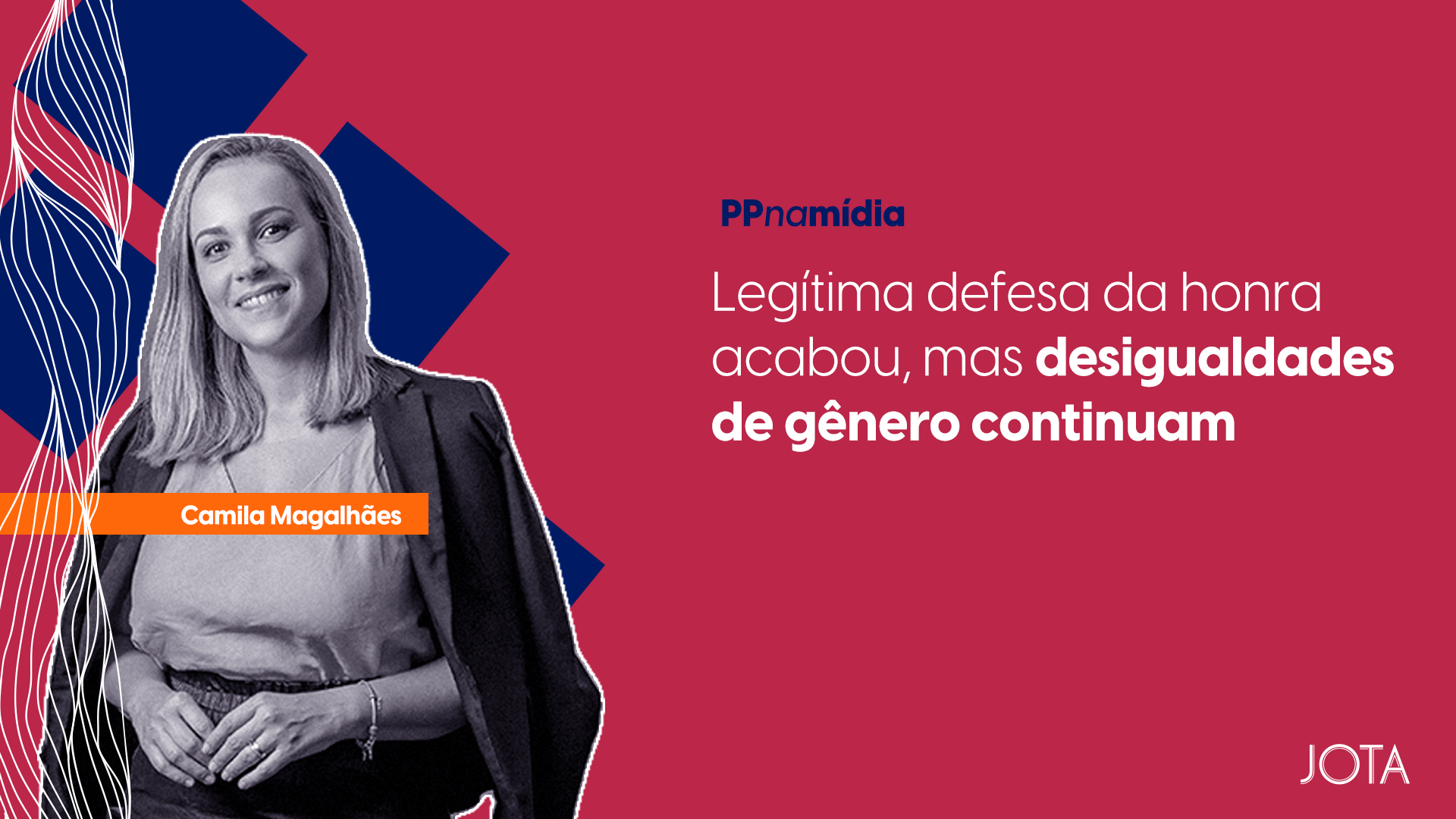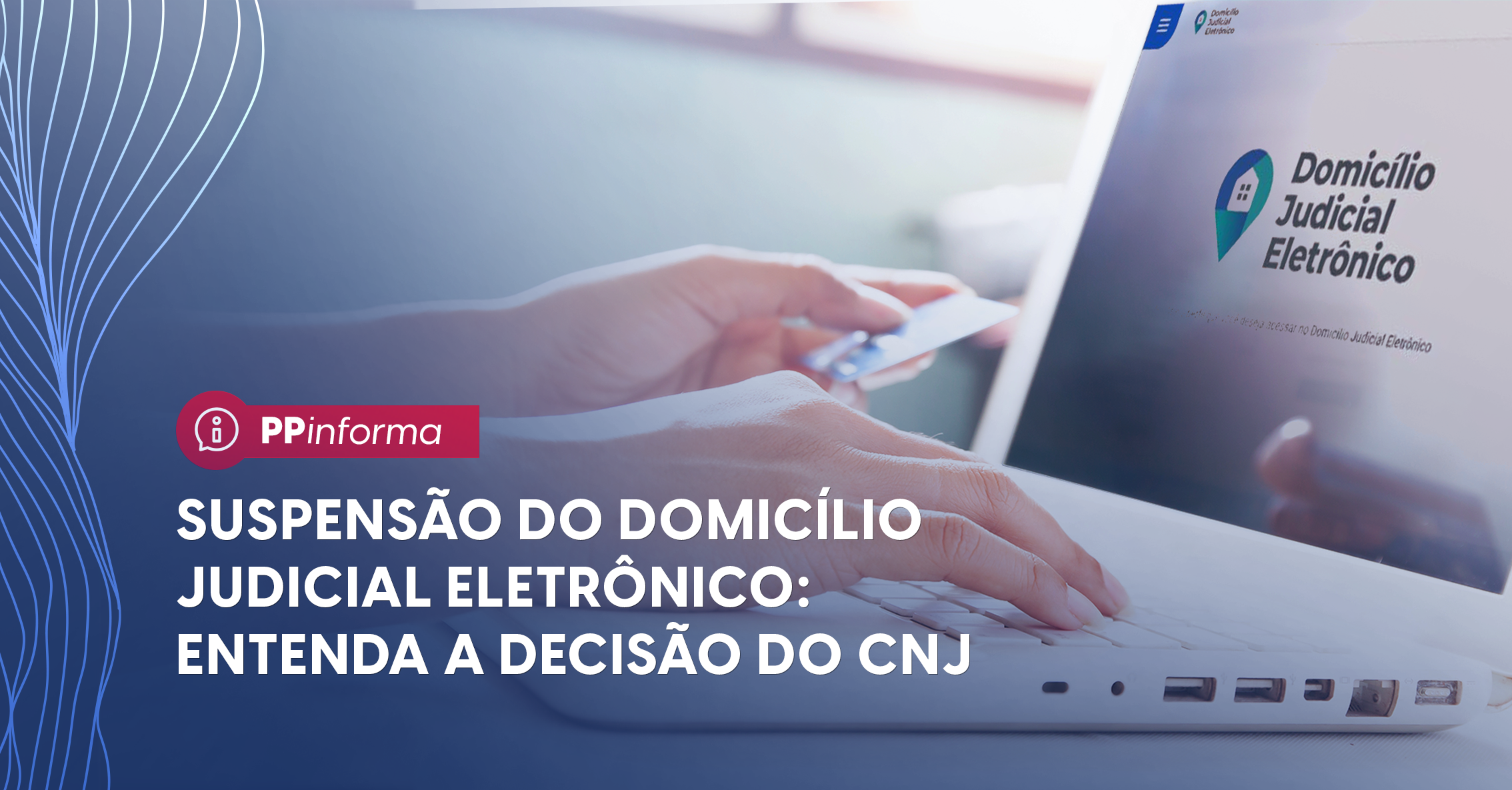No dia 1º de agosto, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. Como diz o ditado, “se a justiça tarda, ela falha”. Mas, ainda que tenha levado algumas décadas e custado muitas vidas, a decisão representa o ponto final, a última instância, de um debate jurídico que corroborava o consenso existente no Brasil de que se pode matar mulheres. Em 2022, de acordo com dados do Monitor da Violência, uma mulher foi assassinada a cada 6 horas, totalizando 1,4 mil feminicídios, o maior número já registrado desde que a Lei 13.104 (Lei do Feminicídio) entrou em vigor, em 2015.
O gênero é uma construção social que organiza e interpreta as diferenças biológicas entre homens e mulheres, atribuindo papéis específicos e hierarquizados, cabendo às mulheres uma posição subalterna aos homens. Essas hierarquias estruturam a sociedade e, dessa forma, moldam as subjetividades e produzem desigualdades em todos os âmbitos da vida social, como no trabalho, na política, no direito, na ciência etc. Nas relações domésticas e familiares, as mulheres são frequentemente objetificadas como propriedade de seus maridos e companheiros, tornando-se vítimas das violências perpetradas por aqueles que alegam amá-las. Dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2020) revelam que quase 90% das vítimas de feminicídio no Brasil são mulheres mortas por ex-maridos ou ex-companheiros.
A tese da legítima defesa da honra, enfim declarada inconstitucional, tem origem nas desigualdades de gênero e remonta ao período colonial brasileiro, quando a lei vigente (Ordenações Filipinas) previa como direitos do homem aplicar castigos corporais e até matar a esposa flagrada em adultério. De lá para cá, a legítima defesa da honra se tornou uma tese mobilizada por advogados, autoridades policiais, juízes e Tribunais do Júri para excluir a culpabilidade dos autores de crimes de feminicídio – na prática, garantindo sua chancela. O argumento tinha como fundamento a culpa da mulher em razão do comportamento dito imoral e provocador, sendo o assassinato entendido como uma resposta à ofensa a honra, um ato passional justificável. O caso mais famoso talvez tenha sido o assassinato de Ângela Diniz, em 1976, pelo seu companheiro Doca Street que, no primeiro julgamento, teve reconhecida a tese da legitima defesa da honra e suspensa a sua pena.
O STF, no julgamento da ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 779, movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), decidiu que o uso da tese contraria os princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero, não podendo mais ser utilizada no âmbito do sistema de justiça brasileiro.
Uma análise histórica sobre o lugar das mulheres na legislação brasileira demonstra como o direito contribuiu para a reprodução das desigualdades de gênero, a partir de normatizações sexistas e patriarcais que, sob o véu da legalidade, ajudaram a estruturar a subalternização feminina e os privilégios dos homens. O Código Civil de 1916, por exemplo, previa a possibilidade de anulação do casamento se o marido descobrisse que a mulher não era virgem, assim como a relativa incapacidade dada à mulher quando casada (até 1932) e a obrigatoriedade de adotar o nome da família do marido. No Código Penal de 1940 há inúmeras referências ao termo “mulher honesta”, implicando numa diferenciação na proteção dada às mulheres em função desse adjetivo.
Por outro lado, conforme nos ensina o sociólogo francês Pierre Bourdieu, o direito é um campo de disputas e pode promover mudanças emancipatórias. A partir da perseverança das lutas feministas e do marco da Constituição Federal de 1988, que reconheceu o direito fundamental à igualdade entre homens e mulheres (inciso I, art. 5º), novas legislações e políticas públicas têm buscado enfrentar as desigualdades e violências de gênero em diversos âmbitos da vida social. Virar a página da absurda tese da defesa da honra é um passo que fortalece o esforço cotidiano pela mudança de mentalidade dos agentes públicos e das práticas institucionais na prestação do serviço de justiça às mulheres que seguem sendo vítimas de violências. E essa luta, todas sabemos, ainda está longe do fim.
Artigo publicado no JOTA.